Um colega narrou-me como verídico o fato que resumo a seguir.
O provimento de cátedra na Faculdade de Medicina exigiu do professor Chinaglia a elaboração de uma tese sobre assunto da sua especialidade. Incluiu nela citações de um cientista de fama internacional, atribuindo-lhe o qualificativo famigerado. Este adjetivo constava no Pequeno Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa, predecessor do Aurélio, como significando famoso, dotado de fama, notável, célebre; mas não mencionava o sentido pejorativo – mal afamado, infame – apesar de ser esta a acepção mais usada na linguagem corrente, talvez a única conhecida pela maioria das pessoas.
A inclusão do adjetivo na tese era uma “casca de banana” proposital, e coube a um dos examinadores, catedrático baiano, protestar enfaticamente contra essa referência pejorativa ao tão renomado cientista. Em sua defesa, Chinaglia declarou-se surpreso com a censura do examinador, em seguida leu todo o verbete no dicionário, que tivera o cuidado de levar consigo. Conquistou a cátedra, mas o troco veio no banquete em sua homenagem. O loquaz professor baiano encerrou sua saudação com estas palavras:
— ... E quando eu chegar à Bahia, vou dizer aos meus amigos que tive a grande honra de examinar e aprovar o famigerado professor Chinaglia.
Por ter dado azo a esse episódio, e principalmente aos comentários que circularam rapidamente, o dicionarista Aurélio julgou conveniente defender-se na edição atualizada, embora sem reconhecer a falha. Se tiver tempo e curiosidade, procure o verbete famigerado e veja a forma habilidosa como ele o fez.
Os significados mais elogiosos ou pejorativos convivem tacitamente numa mesma palavra ou expressão, e muitas vezes só se distingue o sentido intencional observando o tom com que foi usada. O mais ofensivo e infamante xingamento da nossa língua (no inglês, seria bastard) pode gerar uma briga feroz, ou então uma boa gargalhada dos dois interlocutores, dependendo do modo como é dito. E creio que o mesmo acontece em outros países, talvez todos.
Li em um escritor (não me pergunte o nome) que os americanos têm dificuldade para distinguir entre fama e notoriedade. De fato, em dicionários de inglês o verbete notorious inclui significados pejorativos, como também neutros que podem ser tidos como elogiosos: notório, público, evidente, manifesto; desacreditado, de má fama, de má reputação; famigerado (eis a casca de banana do Prof. Chinaglia). Nessa miscelânea de significados, Al Capone e Frank Sinatra seriam igualmente notorious.
Logo depois do atentado contra o presidente Ronald Reagan, noticiou-se que a intenção do criminoso era causar boa impressão a uma famosa atriz de cinema. Qual seria, na imaginação dele, o caminho para esse crime chegar a impressioná-la? Que grosseira distorção mental teria vinculado na cabeça dele uma coisa com a outra? É certo que ele se tornaria notorious, como de fato aconteceu. Mas bastaria esse tipo de notoriedade para ele ser aceito pela atriz? Nunca se sabe, a julgar pelo que afirma o tal escritor. E é bem possível que haja motivações desse gênero entre os serial killers e outros criminosos.
Fama e notoriedade se misturam também na calçada da fama, em Hollywood, onde milhares de lajotas com características especiais exibem depressões, gravadas cada uma pelo pé de um figurão cinematográfico. Famigerados de todos os quilates celebrizaram assim os seus pés. Homenagem estranha, que eu só conceberia para alguém como o Pelé, ou até o Maradona, talvez o governador Pezão. Mas prefiro não discutir se os idealizadores dessa homenagem dão mais valor à cabeça ou à pata...
Se as coisas são assim por lá, não espanta que em Pindorama a confusão de sentidos seja tão generalizada, a ponto de muitos já estarem considerando famigerados todos os políticos, por exemplo. O noticiário dos últimos meses dá ampla base para esse conceito, mas acho muito arriscado generalizar, especialmente quando os famigerados estão no poder.
Diante desse risco, apresso-me em declarar que todos os políticos são famigerados em um sentido, mas nem todos o são também no outro. Deixo assim em paz minha aljava com as flechas, e ao mesmo tempo me protejo contra eventuais aborrecimentos futuros.
31 de julho de 2015
Jacinto Flecha

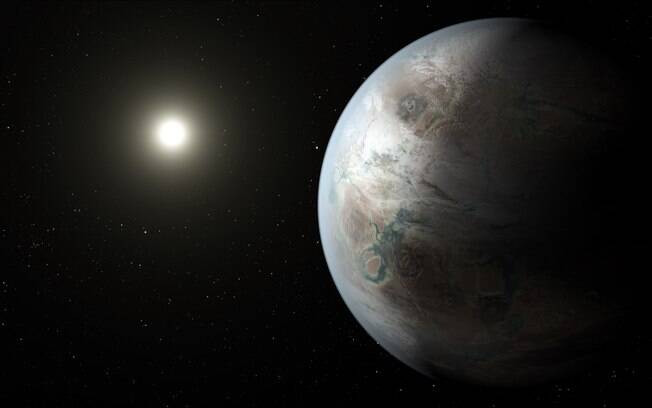








http://www.youtube.com/watch?v=Us2YuUmqq-I
O alumínio possui sim uma certa toxidade. Porém ele só é perigoso quando cozinhamos alimentos ácidos, que causam uma corrosão das camadas de alumínio da panela e incorporam o metal ao alimento. Desta forma muito mais perigoso que assar um frango com papel alumínio é cozinhar molho de tomate em panelas de alumínio sem qualquer revestimento. Mexer o alimento com colheres feitas com material mais duro que o alumínio, como colheres de aço, também ajudam a incorporar o metal ao alimento. Prefira as de madeira ou plástico.
O lado brilhante do papel alumínio deve ficar para dentro quando assamos algo porque esta face reflete de volta o calor irradiado do alimento sob a forma de infravermelho, cozinhando-o mais rápido e utilizando menos energia.